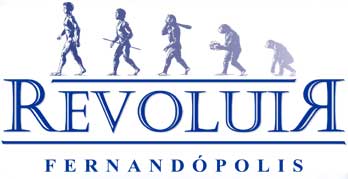Botafogo e Flamengo históricos; Palmeiras e Fluminense vencem
24 de junho de 2025
Palmeiras X Botafogo, Flamengo e Fluminense tentam superar o primeiro “Everest”
28 de junho de 2025HISTERIA EVANGÉLICA: tendência nacional

André Marcelo Lima Pereira, psicólogo
Expressões como fingimento, teatro, simulação, falta do que fazer, fraude, fraqueza, fragilidade, loucura, possessão demoníaca têm sido alguns dos “atributos” forjados às mulheres em intenso sofrimento psíquico e físico (Tosatti, 2024) que foram interpretadas como pessoas insanas, misteriosas, marcadas pela histeria considerada, na Idade Média, como possessão demoníaca ou resultado de feitiçaria (Belintani, 2003; Riemenschneider, 2006). Contudo caberia a Sigmund Freud desempenhar um papel de substancial importância na compreensão da estrutura de funcionamento psicológico da histeria (Silva, 2017; Tosatti, 2024).
Histeria, também conhecida como neurose histérica ou histeria de conversão, refere um transtorno dissociativo ou conversivo (Belintani, 2003). Decorre de uma experiência traumática (Freud, 2016), de um “excesso de energia descarregado de modo insatisfatório, escoando-se para o corpo por meio de um sintoma corporal”, enquanto o psiquismo se torna incapaz de “lidar com essa quantidade de energia, pois ela remete, de algum modo, a um conflito insuportável para o sujeito” (Catani, 2014, p. 118). Esse conflito continua a produzir efeito no indivíduo, muitas vezes, sem que ele se aperceba disso – uma como somatização funcional que sempre esteve integrada no quadro clínico da histeria (Fabião; Fleming; Barbosa, 2011).
A histeria é considerada um tipo de neurose cuja característica predominante é a transformação da ansiedade subjacente para um estado físico em um corpo somático e “pela presença de sinais diversos (paralisia, distúrbios visuais etc.) que podem ser reproduzidos por sugestão ou por autossugestão” (Ferreira, 2010, p. 400), isto é, seus “sintomas físicos são uma manifestação de conflitos emocionais ou psicológicos subjacentes” (Abreu et al., 2023, p. 987). Para Freud (2016), a histeria está associada à sexualidade, em mulheres e em homens, que não estão imunes aos conflitos inconscientes.
O termo histeria origina-se da palavra grega hystera, que significa útero. Assim, histeria tem sido relacionada, desde a Antiguidade, como uma doença surgida no útero, ligada à sexualidade feminina (Schmitz, 2021). O útero, também chamado de matriz, é lugar onde algo é gerado ou criado. É órgão das fêmeas dos mamíferos onde se processa o desenvolvimento embrionário nos seus vários estágios até se concluir no feto; aparece investido como sede da feminilidade na medicina antiga e se acredita seja seu ponto central, representando o espírito da mulher (Galhardo, 2023).
Por conseguinte, a histeria traz um caráter exclusivamente feminino, como uma das “doenças das mulheres”, sendo as parteiras, outrora, as responsáveis pelo diagnóstico e tratamento da histeria (Belintani, 2003). Considerada uma doença orgânica de origem uterina (Gomes; Coelho Júnior, 2021), foi assim concebida como um fenômeno patológico específico das mulheres até final do século XIX (Botton, 2019). A histeria não podia, por óbvio, ser observada senão em mulheres: eis por que a palavra, inicialmente, marcou o caráter feminino da doença, atribuída a uma disfunção uterina. Todavia Nunes (2010, p. 377) afirma que a histeria, por ter categoria pouco delimitada e fluida, possibilitou fosse aplicada nas mais diferentes situações e, com isso, os “médicos puderam lançar mão à vontade do diagnóstico de histeria, patologizando comportamentos considerados desviantes e antissociais que não podiam ser facilmente atribuídos a outras doenças mentais”.
Em psiquiatria, histeria se refere à “psicopatia cujos sintomas se baseiam em conversão, e caracterizada por falta de controle sobre atos e emoções, ansiedade, sentido mórbido de autoconsciência, exagero de efeito de impressões sensoriais, e por simulação de diversas doenças” (Ferreira, 1999, p. 1055). A histeria representa a manifestação de indivíduos com tendências neuróticas, incapazes de distinguir, claramente, o consciente e o inconsciente.
Uma neurose pode ser entendida como um conjunto de condições psicológicas caracterizado por alterações emocionais significativas (melancolias, fobias, obsessões etc.) que, embora não afetem completamente o contato com a realidade, impactam a saúde mental dos sujeitos de diversas maneiras e estampam um quadro clínico definido por sentimentos e emoções negativas (Dunker, 2014; Brum, 2021). Uma neurose resulta de “processos inconscientes, repetitivos e obsoletos de interrupção do contato”, gera uma percepção distorcida da realidade, dificulta a recuperação do equilíbrio entre organismo e meio, impede ou dificulta o crescimento do self (Tenório, 2003). Segundo Freud, a neurose é a expressão de um conflito entre os desejos do inconsciente do sujeito (entre eu e id), onde os impulsos são dissonantes da realidade exterior e impossíveis de serem realizados, o que desencadeia intenso estado de ansiedade e mal-estar (Poletto, 2012).
A neurose não desmente a realidade, limita-se a não querer saber nada dela, e o sujeito expressa ansiedade excessiva, comportamentos compulsivos, pensamentos intrusivos, causa sofrimento emocional e impacta a qualidade de vida (Dunker, 2014; Freud, 2019). Pessoas neuróticas mostram-se emocionalmente frágeis, têm dificuldade em lidar com críticas, mudanças ou situações desafiadoras de sua zona de conforto (Horney, 2007).
Neurose também pode ser entendida como um mecanismo de autorregulação mental, ou uma estratégia de defesa contra ideias insuportáveis e emoções recalcados desde a infância e ao longo dos estágios do desenvolvimento humano (Brum, 2021). As emoções suprimidas na infância podem ressurgir em situações de estresse e evocar lembranças inconscientes de eventos aversivos e pensamentos negativos em diferentes dimensões da vida, com impactos negativos na saúde mental (Vale; Melo; Klinger, 2023). O sujeito expressa tristeza, pessimismo, falta de prazer, ansiedade e nervosismo no cotidiano ou pensamentos negativos, exibe emoções de forma intensa, sensibilidade exacerbada e se torna vulnerável ou incapaz de oferecer respostas adequadas aos desafios da vida. Pode ostentar sintomas físicos, sem identificação de causa médica, e somatização de conflitos psíquicos profundos, geralmente reprimidos (Ávila; Terra, 2010; Tófoli; Andrade; Fortes, 2011; Catani, 2014), associados a sofrimento mental em variados contextos (Reinert et al., 2016).
No campo da psiquiatria, a neurose histérica, ou histeria de conversão, hoje nomeada como transtorno dissociativo ou conversivo (Belintani, 2003), é marcada pelo aparecimento súbito e involuntário de distúrbio funcional de ordem psíquica (Ferreira, 1999). Pode assumir perturbações de sentido ou do sistema nervoso voluntário, manifestar cegueira, surdez, alterações de sensibilidade etc. (histeria de conversão), ou distúrbios situados na consciência e na identidade do indivíduo (histeria de dissociação) como amnésia, sonambulismo, personalidade múltipla etc. A histeria requer abordagem multidisciplinar e suporte médico para gerenciar o quadro psíquico, compreender e solucionar os conflitos emocionais subjacentes (Abreu et al., 2023), embora a intervenção precoce e o manejo terapêutico adequado possam contribuir para melhorar a qualidade de vida do paciente afetado (Zatti et al., 2021).
No Manual de Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10, a histeria é citada na categoria dos transtornos neuróticos, relacionados ao estresse e somatoformes, na subcategoria transtornos dissociativos ou de conversão (DSM-5, 2014; CID-10, 2020). O transtorno conversivo é considerado um distúrbio psicossomático (Abreu et al., 2023), caracterizado por perda (ruptura ou descontinuidade) parcial ou completa da integração entre lembranças (memórias do passado), consciência, identidade e sensações imediatas, além do controle dos movimentos corporais (Belintani, 2003; Patrocínio et al., 2019).
O DSM V reconhece a existência de problemas espirituais e religiosos (V62.), à semelhança de transtornos mentais. Um transtorno mental é síndrome caracterizada por perturbação clinicamente significativa da cognição, da regulação emocional ou do comportamento e espelha uma disfunção psicológica ou biológica subjacente ao funcionamento mental, frequentemente associada a sofrimento ou incapacidade significativa para atividades importantes (DSM 5, 2014, p. 20). Neste quadro se inserem os desvios de comportamento, de natureza política, religiosa ou sexual, e conflitos ou desvios individuais ou sociais (Alcântara; Simon; Guimarães, 2024).
Os transtornos dissociativos/conversivos tendem a desaparecer após algumas semanas ou meses, quando sua ocorrência já se associou a um acontecimento traumático (CID 10, 2020). São psicogênicos, isto é, de origem psíquica, mas causam sintomas físicos sem uma aparente causa médica identificável (Abreu et al., 2023). Oliveira e Winter (2019, p. 357) sinalizam: o “corpo fala por meio dos seus sintomas” – o que bem caracteriza as neuroses, especificamente a histeria.
Os sintomas dos transtornos dissociativos/conversivos traduzem a ideia de que o sujeito se faz de uma doença física, podendo envolver “múltiplas manifestações, como paralisias, cegueira, convulsões e perda de sensibilidade, que costumam surgir após eventos estressantes ou traumáticos” (Abreu et al., 2023, p. 985). Admite-se que, ao expor a perda de uma função, o transtorno expresse conflito ou necessidade psíquica (CID-10, 2014) e implique manifestações dolorosas ou sensações físicas que intervêm no sistema nervoso autônomo (transtorno somatoforme), com possibilidade de ocorrência em data ulterior de um transtorno físico ou psiquiátrico grave (Tófoli; Andrade; Fortes, 2011; Catani, 2014; Reinert et al., 2016).
O fenômeno da histeria, desde a Antiguidade, tem-se assemelhado à loucura, confundida, nos círculos médicos, com a epilepsia, melancolia e outras patologias (Schmitz, 2021). A partir de Freud, porém, a histeria passa a ser abordada com o olhar da psicanálise, relacionando-o a traumas psíquicos de natureza sexual, extraídos da análise do inconsciente dos pacientes por meio da interpretação de sonhos e da verbalização.
Ligada a conflitos relacionados à intimidade da vida psicossocial do indivíduo, a histeria é a expressão dos desejos secretos recalcados, situados no plano do inconsciente cujos sintomas causam o adoecimento do corpo (Reinert et al., 2016). Com a verbalização das imagens, sonhos, pesadelos, fantasias e desejos, a psicologia e a psicanálise trabalham para compreender como o trauma afeta a interioridade psíquica e emocional do paciente, isto é, buscam identificar não o trauma em si, mas sua repercussão emocional e psicológica (Schmitz, 2021).
Os sintomas histéricos resultam desejos reprimidos (recalcados) que não foram resolvidos pelo consciente (Martins, 2021). Sua maioria está associada a distúrbios de sensibilidade, anestesia ou hiperestesia de intensidade variada, distúrbios sensoriais, paralisias de alguma parte do corpo e contraturas musculares. Segundo a hipótese freudiana, o recalque surge como um mecanismo de defesa (proteção) contra algo fortemente doloroso que o indivíduo não quer vivenciar (Melo et al., 2024). O desejo não realizado e recalcado, barrado de sua representação e fixado no inconsciente, se traduz em desprazer, angústia, inquietação, infortúnio (Gonçalves, 2019; Vianna; Ravizzini; Freitas, 2022).
Do ponto de vista psicanalítico, o recalque e a não associação pelo psíquico e emocional do paciente formam a base para a inervação física, espasmos, gritos, choques e ataques de toda ordem. A verbalização possibilita a tomada de consciência do objeto ou símbolo recalcado e abre espaço para o tratamento das histerias. A histeria narra simbolicamente o recalcado intolerável, expondo como emoções reprimidas se manifestam por meio do corpo (manifestações somáticas, traduzidas inconscientemente em sintomas corporais) como uma forma de chamar atenção para um sofrimento interno que precisa ser identificado e tratado (Castilho, 2013; Lemos; Chatelard; Tarouquella, 2021).
Com os estudos de Freud no início do século XX, a psicanálise se permitiu encontrar muitas respostas para o fenômeno da histeria. A psicanálise elimina os sintomas dos histéricos a partir da premissa de que tais sintomas são “um substituto […] de uma série de processos, desejos e aspirações investidos de afeto, aos quais, mediante um processo psíquico especial (o recalcamento), nega-se a descarga através de uma atividade psíquica passível de consciência” (Freud, 2006, p. 101).
Freud deu voz aos sintomas da histeria que se revelam na clínica psicanalítica como expressão de um conteúdo da ordem do inconsciente, e o tratamento não se sustenta em sua eliminação, mas denuncia um desejo recalcado, de natureza inconsciente, que vai além de construções simbólicas do sujeito e evidencia algo escondido da dimensão do real, transformado em estranho pelo recalque a povoar a subjetividade e denunciar um desejo proibido (Zucchi, 2014; Lima, 2023).
Por isso mesmo, a compreensão das manifestações histéricas implica a leitura dos sintomas, sobretudo apresentados nas neuroses modernas. Se, outrora, Freud concebia eliminar sintomas corporais por meio da verbalização, modernamente a proposta é calar o sintoma pela intervenção no corpo (Oliveira; Winter, 2019). A angústia na insônia ou a tristeza no alcoolismo podem ser solucionados por um antidepressivo como terapêutica, mas o silencia como expressão de uma mensagem subjetiva codificada (calada pelo recalcamento).
Se, nos tempos de Freud, os sintomas histéricos reportavam um sentido inconsciente, desvendado pelo trabalho analítico, os sintomas contemporâneos se expressam pela fenomenologia da clínica corporal que não expressa apenas texto ou mensagem, mas gozo ou rejeição traduzidos em experiência vivida, além de condição imaginária, simbólica e real do corpo (Zucchi, 2014; Lima et al., 2015).
A compreensão moderna da histeria destaca fatores psicológicos e sociais na gênese de sintomas somáticos, em substituição às antigas explicações com base na mitologia, superstições e crendices que levavam a tendências coletivas de atuação. Eis um dos motivos que tem reforçado a busca pela compreensão de questões sobre a saúde mental, o controle das emoções, a atuação coletiva e a necessidade de compreender a histeria como fenômeno coletivo (Tosatti, 2024), tal como ocorre, como frequente tendência, em cultos e rituais religiosos especialmente nos ambientes evangélicos.
Junte-se a essas considerações a discussão da histeria no ambiente religioso, como u’a manifestação coletiva de um grupo. As palavras, proferidas e circunscritas a este ambiente, de modo geral, estão impregnadas de valor simbólico intransigente, como em um mantra repetido interminavelmente, mesmo que tal valor não seja exatamente perceptível pelos “fiéis” dedicados aos cultos e rituais. Nesses discursos – e rituais – se encontram referências místico-religiosas antagônicas, muitas vezes, em oposição “quase sacrílega” (Nascimento, 2015).
A histeria coletiva se assemelha às “epidemias imitativas”, frequentemente, “favorecidas por condições ambientais especiais como a fome, as guerras e o pauperismo” (Benevides, 2023a, p. 68), com frequência transpostas e veiculadas, atávica e insistentemente, em discursos religiosos ou ritualísticos. Condições hostis provocam um sentimento de resistência propagada entre as massas (coletividade), com a contribuição do instinto do delinquente religioso.
Esse delinquente refere personalidade com natureza neurótica e impulsiva, percebido como um “rebelde em potencial”, que “encontra nos tumultos o caminho para desabafar suas paixões”: impulsivos e inclinados à ação, tomam sua rebeldia como pretexto para manifestar os seus “instintos indomáveis” ou histéricos (Benevides, 2023b). Assim, bem se pode supor uma histeria coletiva, compartilhada por um grupo religioso, o que delineia um como contágio de manifestações em grupo, uma reação desencadeada em série, ligado a um líder (Ferreira, 2018).
Após meses de fervorosa pregação, fiéis tendem a apresentar estranhos sintomas tidos como “sobrenaturais e de natureza inexplicável”, quase “diabólica”, para além das práticas religiosas comuns (Nascimento, 2015; Silva, 2021). Sentem-se possuídos e acusam os líderes religiosos de instigarem o conflito religioso: é o nascer e o desenvolver da histeria coletiva diante de um suposto evento, proposto pelo líder religioso (pastor evangélico). Alienam-se, pervertem sentimentos, afetos e instintos, próximos às manifestações psicológicas da loucura, do delírio e aberrações mentais que se “agrupam em torno de um centro comum e constituem uma predominância em favor de determinadas ideias, de certas tendências, que parecem absorver praticamente tudo à sua volta e impor uma espécie de conscrição forçada a todas as faculdades do indivíduo” (Ball, 2015, p. 104). Uma espécie de loucura religiosa (Benevides, 2023b).
Ball (2015) admite que, apesar de a “loucura religiosa” ou messiânica se manifestar repentinamente, os sujeitos delirantes quase sempre trazem forte predisposição para essa doença mental nos seus antecedentes, nascidos que são em um ambiente quase sempre saturado de ideias místicas, educação rígida, “perversa”, que atiça as exaltações do sentimento natural. Não se olvida, porém, que pastores evangélicos reinterpretem inúmeros discursos da cultura, da religião e da psicanálise, e os incorporem à conveniência do discurso religioso como forma de intimidação ou ameaça e apologia ao medo, ou como imposição (disfarçada de doutrinação) de “normas de comportamento” diante do sagrado, do divino, do desconhecido a interferir nas vidas humanas, e usem uma pseudopsicanálise para cativar fiéis evangélicos, na tentativa de aumentar o rebanho e ampliar o dízimo (Cancela; Caldas, 2022, p. 50).
Muitos pastores evangélicos praticam uma “psicanálise selvagem”, uma espécie de chantagem terapêutica, apregoam algo indefinido, desconhecido e intangível na vida do indivíduo e praticam a apologia ao medo e ao terror. Esses pastores incitam os membros a despertarem um comportamento histriônico (aparência física, sedutora, comportamento excessivamente emocional para chamar a atenção dos outros), uma espécie de teatralidade comum nos casos de êxtase místico (Arruda et al., 2017; Alves et al., 2024). Acredita-se sejam pessoas psicologicamente abaladas que desenvolvem comportamentos inconscientes (transtornos histéricos) em busca de benefício com a sua condição (Catani, 2014).
Mano (2011) expõe que é frequente, no ambiente religioso, a expressão de comportamentos descontrolados, aceitos pelos religiosos como u’a manifestação de dons e da presença divina (ataques de histeria coletiva com risos, choro, danças, sapateados, movimentos corporais, profecias). Pessoas alteradas psiquicamente “falam em nome de Deus”, profetizam, abençoam, amaldiçoam, “curam” doenças e maldições e obstaculizam a percepção de situações patológicas no comportamento dos seus membros, o que dificulta e adia o tratamento adequado de pessoas em sofrimento psíquico. São ideias delirantes associadas a conteúdos religiosos que refletem um contexto de culpa, pecado ou exaltação.
Basta atentar-se para a histeria revelada em alguns cultos religiosos em que se propagam, de forma veemente e quase alucinógena, mantras excessivamente repetidos, visões, vertigens, gritos, movimentos corporais duvidosos, desmaios, altercações contrapostas às “curas milagrosas” – como uma excessiva e insuportável exibição de histeria religiosa –, o que leva à indagação a respeito de “onde começa a histeria e termina a religiosidade”, miscigenadas, irreconhecíveis em separado, mesmo que se expresse uma religiosidade autêntica (Soares, 2009, p. 221). Parece existir uma predisposição encontrada em pacientes com sofrimento psíquico grave que buscam, na religião, a cura ou uma fonte de suporte e bem-estar para seu estado, considerado como um “problema espiritual” ao invés de um estado de adoecimento (Mano, 2011). Para Ferreira (2018), o “sintoma histérico é o retorno do recalcado”.
A práxis da psicanálise e da psicopatologia torna possível compreender a ocorrência da histeria em fenômenos religiosos, cujos discursos implicam transformações subjetivas importantes na vida das pessoas, levando-as a novos tipos de afetos em confronto com os antigos predicados, agora destituídos (Binkowski; Rosa; Baubert, 2020). Em uma perspectiva psicanalítica, privilegia-se a existência de uma teia evangélica simbólico-imaginária que atua na vida do indivíduo singular, agora inserto em um coletivo e imerso em universos simbólicos da saúde mental e de comunidades: esses fenômenos religiosos ocorrem como centrais na vida sociocultural de fiéis, de famílias inteiras e do próprio tecido comunitário, social e institucional de uma população (Binkowski; Rosa; Baubert, 2020, p. 247).
O discurso histérico (e a histeria em si mesma) evidencia-se como um laço social especial contrário ao laço social dominante: não é doença, nem neurose ou patologia, mas uma tentativa de transformar os sujeitos (individualizados) em valor de uso para uma causa religiosa, ou simples suporte do valor de troca, passível de consumo coletivo (Benelli, 2023).
Nesta ótica, a histeria transcende os limites individuais e se conecta à experiência coletiva e se firma como um fenômeno compartilhado e influenciado pela dinâmica social, religiosa e cultural (Tosatti, 2024). No universo coletivo das manifestações (rituais, gestos, clamores, gritos), a histeria pode ser entendida como u’a metáfora do corpo que sofre em busca do alívio espiritual, uma expressão psicológica complexa (de dor, esperanças, desejos, aspirações) dos indivíduos e de sua busca contínua por equilíbrio emocional, satisfação pessoal e aproximação do eterno, do sagrado e, sobretudo, da possível salvação da alma.
Apesar disso, os sintomas histéricos (coletivos), encontrados na sociedade contemporânea (comuns em templos e igrejas evangélicas), muito se assemelham a um contágio espetaculoso direcionado para desígnios “espirituais” nem sempre críveis ou verdadeiros: aparecem mais como exploração da fé, da crença, do misticismo ou da ingenuidade dos fiéis, uma espécie de sedução do divino diante do desamparo, como uma parceria entre fiel e Deus eterno (Melo Neto; Silva Júnior, 2010). Todavia, a histeria coletiva concorre como um espaço de reivindicação dos indivíduos que buscam, no discurso histérico de pastores e pregadores religiosos, redefinir um lugar na sociedade, recriar uma figura paterna e se aproximar de um Ente superior, eterno, que ampara e protege (Nascimento, 2015; Ferreira, 2018; Tosatti, 2024).
Embora curável pela persuasão, a histeria é “síndrome caracterizada pela sintomatologia oriunda da autossugestão” (Austregésilo, 2010, p. 586). Têm-se, em profusão, exemplos de histeria assim induzida, como a histeria coletiva na estranha experiência de estudantes para quem o espírito de um colega falecido teria aparecido durante a aula, com vários alunos entrando em uma espécie de surto psicótico (contágio coletivo) – à semelhança do contágio histérico em cultos religiosos. Os estudantes podem ter sofrido um ataque de histeria coletiva, uma espécie de explosão de sentimentos e de vontades reprimidas, com contágio das manifestações (Ferreira, 2018). Explica-se: o material recalcado vem disfarçado sob a forma de um sintoma corpóreo, uma espécie de teatro corporal. Os sentimentos recalcados (medo, tristeza, angústia, forte ansiedade, desejo intenso, esperança) ficam retidos no inconsciente porque não foram verbalizados ou simbolizados por via do corpo em expressões coletivas de sintomas histéricos como queixas somáticas dolorosas, cansaço, vertigens, tristeza, visões, desmaios (Lindenmeyer, 2015; Campos; Bocchi; Loffredo, 2021).
Outro exemplo desse fenômeno ocorre quando indivíduos apresentam, ao mesmo tempo, sintomas de ansiedade, vômitos, desmaios, choros, tontura e falta de ar, em uma espécie de “surto coletivo”, a que, na medicina (psicossomática), se convencionou chamar de “doença psicogênica de massa”(anteriormente chamada de histeria coletiva), uma condição caracterizada por rápida propagação de sintomas em determinado grupo ou universo de pessoas (em ambientes geralmente fechados, muito frequente em igrejas e templos evangélicos), sem uma causa orgânica definida ou uma explicação por meio físico ou biológico (Marinho, 2013). Esses surtos coletivos são reações em cadeia, a exemplo do que tende a ocorrer em cultos evangélicos, pregações rasas e inflamadas com a elevação do tom de voz do pastor, acompanhada de gestos e vozes alteradas que insuflam comportamentos extremos dos fiéis.
É importante que se compreendam esse fenômeno psíquico e as possíveis manifestações na fé e nas crenças: a atitude religiosa é “função psíquica natural que sempre se impõe” e pode causar perturbações aos indivíduos que não as direcionam de modo adequado. Impactando na saúde e no bem-estar subjetivo, a espiritualidade, quando bem direcionada e sem interferências externas, confere “proteção contra os perigos do contágio e da epidemia psíquica […] fortalece o indivíduo sem, no entanto, distanciá-lo de seu compromisso com a vida comunitária” ou religiosa e sem ferir suas convicções íntimas (Ribeiro, 2021, p. 78).
Ao sair das sombras, a histeria se torna reconhecida abertamente, mas cria uma situação desconfortável para médicos (neurologistas, psiquiatras, psicólogos) e para pacientes, que “convivem com a angústia, o descrédito social e a autoestima debilitada à medida que peregrinam por serviços de saúde, passam por tratamentos desnecessários e tomam remédios que não funcionam” (Fioravanti, 2005).
Observa-se a premência de abordagem e tratamento por uma equipe multiprofissional (neurologistas, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas) que possa encontrar as melhores formas de lidar com essas expressões do inconsciente. Ao clínico cabe desvendar a trama induzida coletivamente, cuja implicação e responsabilização do sujeito se voltam ao apaziguamento (mental e social) do mal-estar e à criação do laço social construtivo isento de agressividades.
No cenário religioso, se a histeria é contagiosa devido ao espírito de imitação dos fiéis ou pela instigação de pastores e líderes religiosos, não se pode esquecer o número de casos agudos de histeria que ocorrem como uma tendência atual nos palcos de pregação religiosa. Deve-se atentar, especialmente, para as instabilidades emotivas calcadas em “fundamentos religiosos”, com excessivo enfoque à ideia de se ter uma vida santa, plena de interioridade e inebriada união com Deus, enquanto, contraditoriamente, em situações individuais ou coletivas, blasfemam o Criador. Puro cinismo e hipocrisia.

Gostou do artigo? Tem alguma dúvida? Alguma crítica? Ou sugestão de tema para novos artigos?
Entre em contato pelo WhatsApp 17 99715-9136
Espera-se, antes, que se disseminem, entre esses crentes que se entregam à “purificação ingênua e salvação da alma”, a simpatia, a condescendência, a benevolência, a confidência genuína, o aconselhamento verdadeiramente “sacerdotal” e se apague a aparente pretensão de dominar, conquistar, ampliar rebanhos e não se entregar aos propósitos de uma fé cristã.
REFERÊNCIAS
ABREU, R. C.; COSTA, L. S.; BARBOSA, V. A. F.; SATHLER, G.; BARBOSA, M. H. D. Transtorno conversivo: um desafio diagnóstico. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação REASE, São Paulo, v. 9, n. 8, p. 985-996, ago. 2023.
ALCÂNTARA, L. D. F; SIMON, C. R.; GUIMARÃES, R. B. Saúde mental e o contexto universitário: uma leitura interseccional das juventudes na FCT-UNESP. Geoconexões online, v. 4, n. 1, p. 3-21, 2024.
ALVES, T. S.; RIBEIRO, L. E. S.; NUNES, A. L. S.; DALL AGNOL, T. L.; BERSSANE, N. P. B.; COSTA, M. R. F. et al. Características, diagnóstico e abordagens terapêuticas do transtorno de personalidade histriônica: uma revisão bibliográfica. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação REASE, São Paulo, v. 10, n. 7, p. 3118-3126, jul. 2024.
ARRUDA, M. G.; TRILLO, A. S. P.; CORREIA, V. P.; SILVA, A. R.; PALMA, S. M. M. Transtorno de personalidade histriônica e transtorno conversivo: relato de caso em adolescente. Revista debates em psiquiatria, p. 39-42, maio/jun. 2017.
AUSTREGÉSILO, A. Histeria e síndrome histeroide. Comunicação à Sociedade de Psiquiatria e Neurologia. História, Ciências, Saúde, Manguinhos, Rio de Janeiro, v.17, supl.2, p. 586-595, dez. 2010.
ÁVILA, L. A.; TERRA, J. R. Histeria e somatização: o que mudou? J Bras Psiquiatr., v. 59, n. 4, p. 333-340, 2010.
BALL, B. Sobre a loucura religiosa. Rev. Latinoam. Psicopat. Fund., São Paulo, v. 18, n. 1, p. 102-117, mar. 2015.
BELINTANI, Gi. Histeria. PSIC – Revista de Psicologia da Vetor Editora, São Paulo, v. 4, n. 2, p. 56-69, 2003.
BENELLI, S. J. Problematizações das figuras da Psicologia Clínica: olhar, cuidar e escutar. São Paulo: Editora UNESP, 2023. 310 p.
BINKOWSKI, G. I.; ROSA, M. D.; BAUBERT, T. A discursividade evangélica e alguns de seus efeitos: laço social, psicopatologia e impasses teóricos e transferenciais. Rev. Latinoam. Psicopat. Fund., São Paulo, v. 23, n. 2, p. 245-268, jun. 2020.
BOTTON, V. B. Histeria, notas sobre o diagnóstico no Brasil. Revista TEL, Irati, v. 10, n. 2, p. 107-131, jul. /dez. 2019.
BRUM, S. Neurose obsessiva: a construção de uma psiconeurose. Tempo psicanal., Rio de Janeiro, v. 53, n. 1, jan./jun. 2021.
CAMPOS, É. B. V.; BOCCHI, J. C.; LOFFREDO, A. M. (orgs.). Psicanálise em face ao desamparo e seus destinos. São Paulo: Editora Unesp Digital, 2021. 335 p.
CANCELA, C.; CALDAS, H. Psicanálise e religião: efeitos da doutrinação evangélica na moral sexual contemporânea. Cythére? Revista de la Red Universitaria Americana, v. 5, n. 5, p. 44-54, junio 2022.
CASTILHO, A. L. P. C. Revisitando o primeiro modelo freudiano do trauma: sua composição, crise e horizonte de persistência na teoria psicanalítica. Ágora, Rio de Janeiro, v. 16, n. 2, p. 235-25, jul./dez. 2013
CATANI, J. Histeria, transtornos somatoformes e sintomas somáticos: as múltiplas configurações do sofrimento psíquico no interior dos sistemas classificatórios. Jornal de Psicanálise, São Paulo, v. 47, n. 86, p. 115-134, ago. 2014.
CID-10 – Classificação de transtornos mentais e de comportamento da CID-10. Descrições clínicas e diretrizes diagnósticas. Porto Alegre: Editora Artmed, 2020.
BENEVIDES, B. C. S. Revolução, crime político e loucuras: os discursos criminológicos e o anarquismo no Brasil (1890-1930). 2023. 417 f. Tese (Doutorado em História das Ciências e da Saúde) – Fundação Oswaldo Cruz, Casa de Oswaldo Cruz FIOCRUZ, Rio de Janeiro, 2023a.
______. Entre o crime e a loucura: os anarquistas segundo a criminologia de Cesare Lombroso. Revista Brasileira de História da Ciência, v. 16, n. 1, p. 291-310, jan./jun. 2023b.
DSM-5. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais [recurso eletrônico]: DSM-5 [American Psychiatric Association. Tradução Maria Inês Corrêa Nascimento, Paulo Henrique Machado, Regina Machado Garcez, Régis Pizzato, Sandra Maria Mallmann da Rosa. 5. ed. Porto Alegre: Artmed Editora, 2014. 992 p.
DUNKER, C. I. L. Estrutura e personalidade na neurose: da metapsicologia do sintoma à narrativa do sofrimento. Psicol. USP, v. 25, n. 1, p. 77-96, abr. 2014.
FABIÃO, C.; FLEMING, M.; BARBOSA, A. Somatização funcional: uma revisão do conceito. Acta Med Port, v. 24, p. 757-770, 2011.
FERREIRA, A. B. H. Novo Aurélio século XXI: o dicionário da língua portuguesa. 3. ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1999.
______. Mini Aurélio: o dicionário a língua portuguesa. 8. ed. Curitiba, PR: Editora Positivo, 2010. 960 p.
FERREIRA, P. P. Coletividade e histeria: psicanálise e manifestações sociais. Rev. Polis e Psique, Porto Alegre, v. 8, n. 2, p. 67-92, maio/ago. 2018.
FIORAVANTI, C. As máscaras da histeria. Pesquisa FAPESP, n. 117, p. 42-47, nov. 2005.
FREUD, S. Um caso de histeria, três ensaios sobre sexualidade e outros trabalhos (1901-1905). Rio de Janeiro: Editora Imago, 2006.
______. Estudos sobre a histeria (1893-1895). Tradução Paulo César de Souza e Laura Barreto. São Paulo: Editora Companhia das Letras, 2016. 448 p. [Obras completas; v. 2]
______. Neurose, psicose, perversão – Obras incompletas de Sigmund Freud, 5. 4. reimpr. Tradução Maria Rita Salzano Moraes. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2019. 368 p.
GALHARDO, G. C. A filosofia nas dobras da bioengenharia do sistema nervoso. 2023. 154 f. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR, 2023.
GOMES, S.; COELHO JÚNIOR, N. E. A histeria no pensamento clínico de Donald W. Winnicott e Masud Khan. Cad. Psicanál. (CPRJ), Rio de Janeiro, v. 43 n. 44, p. 217-241, jan./jun. 2021.
GONÇALVES, D. S. O sentimento de culpa em Freud: entre a angústia e o desejo. Psicologia em Revista, Belo Horizonte, v. 25, n. 1, p. 278-291, jan. 2019.
HORNEY, K. Cultura e neurose. Rev. abordagem gestalt., Goiânia, v. 13, n. 1, p. 147-159, jan./jun. 2007.
LEMOS, S. C. A.; CHATELARD, D. S.; TAROUQUELLA, K. C. Psicossomática e trauma: o sujeito frente ao irrepresentável. Estilos da Clínica, São Paulo, v. 26, n. 3, p. 584-595, 2021.
LIMA, C. H.; VALIENTE, L. S.; FERNANDES, F. B.; LOPES, A. F. P. Clínica psicanalítica da neurose histérica na contemporaneidade. ECOS – Estudos Contemporâneos da Subjetividade, ano V, n. 1, p. 93-107, 2015.
LIMA, E. B. O estranho que nos habita. Stylus Revista de Psicanálise, São Paulo, n. 47 p. 23-35, dez. 2023.
LINDENMEYER, C. O corpo entre sintoma e cultura. Rev. Latinoam. Psicopat. Fund., São Paulo, v. 18, n. 3, p. 431-444, set. 2015.
MANO, R. P. O sofrimento psíquico grave no contexto da religião protestante pentecostal e neopentecostal: repercussões da religião na formação das crises do tipo psicótica. 2010. 191 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia Clínica e Cultura) – Instituto de Psicologia, Universidade de Brasília, Brasília, 2010.
MARINHO, F. C. Jovens egressos do sistema socioeducativo: desafios à ressocialização. 2013. 148 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações) – Instituto de Psicologia, Universidade de Brasília, Brasília, 2013.
MARTINS, N. C. G. O sintoma na obra freudiana. 2021. 118 f. Dissertação (Mestrado em Teoria Psicanalítica) – Instituto de Psicologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021.
MELO, É. S.; PANTOJA, I. P.; AKSACKI JÚNIOR, J. B.; LOBATO, S. R.; SOUZA, J. W. F. Negação e recalque como mecanismo de defesa e elaboração do luto: implicações na perda de memória em jovens a partir de uma breve análise bibliográfica psicanalítica. Ciências da Saúde, Ciências Humanas, v. 28, n. 135, 11 jun. 2024.
MELO NETO, G. A. R.; SILVA JÚNIOR, M. C. A sedução divina no neopentecostalismo: um estudo psicanalítico. Rev. Mal-estar Subj., Fortaleza, v. 10, n. 3, p. 757-786, set. 2010.
NASCIMENTO, R. V. R. Pandemônio comungado: delineando o conceito de “histeria coletiva” no âmbito das ciências criminais. Revista Transgressões – Ciências Criminas em Debate, Natal, v. 3, n. 1, p. 201-225, maio 2015.
NUNES, S. A. Histeria e psiquiatria no Brasil da Primeira República. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.17, supl.2, p.373-389, dez. 2010.
OLIVEIRA, M. S. V.; WINTER, C. F. C. Manifestações da histeria na contemporaneidade. Ágora, Rio de Janeiro, v. 22, n. 3, p. 353-361, set./dez. 2019.
PATROCÍNIO, M. C. A.; RODRIGUES, C. H. S.; BEZERRA, C. C. S. A. M.; SANDERS, L. L. O.; VASCONCELOS, S. M. M. Psicofarmacologia e psiquiatria geral: para graduandos e generalistas. Fortaleza: Editora Unichristus, 2019. 333 p.
POLETTO, M. Neurose e psicose: semelhanças e diferenças sob a perspectiva freudiana. Psicanálise & Barroco em revista, v. 10, n. 2, p. 1-13, dez. 2012.
REINERT, A. P. R. P.; RÊGO, R. M. L.; PIRES, R. C. R.; SILVA, V. C. S. Transtornos somatoformes (manifestações histéricas) em mulheres atendidas em hospital psiquiátrico de São Luís, Maranhão. Psicologia em Pesquisa, UFJF, v. 10, n. 2, p. 93-101, jul./dez. 2016.
RIBEIRO, R. Q. B. Guerra de informação e psicologia complexa: noções de manipulação e alienação a partir da psicologia das massas. 2021. 221 f. Tese (Doutorado em Psicologia) – Instituto de Educação, Universidade Federal Rural do Rio De Janeiro, Rio de Janeiro, 2021.
RIEMENSCHNEIDER, F. Histeria e caça às bruxas. Rev. Viver Mente & Cérebro. ed. 162, jul. 2006.
SCHMITZ, E. D. Uma breve história da histeria: da antiguidade até os tempos atuais. Revista Mosaico, v. 14, p. 227-238, 2021.
SILVA, A. C. O papel do conceito de histeria na construção do conceito de fantasia em Freud. 2017. 199 f. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, 2017.
SILVA, E. L. M. A importância da homilia no culto litúrgico e o seu prolongamento na existência humana. 2021. 158 f. Dissertação (Mestrado em Teologia) – Pontifícia Universidade Católica, Rio de Janeiro, 2021.
SOARES, G. A. Religião, cultura e poder na obra de Gilberto Freyre. Dimensões, v. 23, p. 200-224, 2009.
TENÓRIO, C. M. D. O conceito de neurose em Gestalt terapia. Universitas Ciências da Saúde, v. 1, n. 2, p.239-251, 2003.
TÓFOLI, L. F.; ANDRADE, L. H.; FORTES, S. Somatização na América Latina: uma revisão sobre a classificação de transtornos somatoformes, síndromes funcionais e sintomas sem explicação médica. Revista Brasileira de Psiquiatria, v. 33, supl. 1, p. 559-569, maio 2011.
TOSATTI, D. M. S. Histeria na modernidade: uma análise interdisciplinar das suas manifestações. Revista Tópicos, v. 2, n. 6, p. 1-69, 2024.
ZUCCHI, M. Esse estranho que nos habita: o corpo nas neuroses clássicas e atuais. Opção Lacaniana online, ano V, n. 14, p. 1-14, jun. 2014.
VALE, W. A.; MELO, A. L. O.; KLINGER, E. F. Privação e (de)privação emocional na infância e seus desdobramentos psíquicos sob a ótica da teoria winnicottiana. Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), v. 28, ed. 5, série 3, p. 37-48, maio 2023.
VIANNA, A. C. N.; RAVIZZINI, S.; FREITAS, A. L. C. G. Se essa rua fosse minha: do lugar de objeto à trilha do desejo. In: BONFIM, Flávia Gaze (org.). Leituras psicanalíticas sobre os desafios da atualidade .1. ed. Curitiba, PR: Editora Bagai, 2022. p. 67-80.
ZATTI, C.; SEMENSATO, M. R.; RAMOS-LIMA, L. F.; WAIKAMP, V.; FREITAS, L. H. M. Trauma infantil e manifestações histéricas na atualidade: uma revisão da literatura. Revista Brasileira de Psicoterapia, v. 23, n. 3, p. 195-207, 2021.